Decisões – Ementas Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1ª Região): Apelação Cível n.º 1997.01.00.036983-1/MT
Apelação Cível n.º 1997.01.00.036983-1/MT
Categories Arquivo
Read More1. HC – HABEAS CORPUS – 12517
Processo: 2002.03.00.004351-0 / SP
ORGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA
RELATOR: JUIZ SOUZA RIBEIRO
IMPETRANTE: EDUARDO GALIL
IMPETRANTE:WILIAM WANDERLEY JORGE
PACIENTE: GUSTAVO AFONSO JUNQUEIRA
ADVOGADO: WILIAM WANDERLEY JORGE e outro
CO-REU: JOSE FRANCISCO ALVES JUNQUEIRA
CO-REU: DEJALCI ALVES DOS REIS
CO-REU: JOAO CARLOS CARUSO
CO-REU: MANOEL ANTONIO AMARANTE AVELINO DA SILVA
CO-REU: JACQUES SAMUEL BLINDER
CO-REU: CARLOS BIAGI
CO-REU: LAERCIO ARTIOLI
CO-REU: EDVALDO FELIX
CO-REU: MAURO DE BARROS TERENA
IMPETRADO: JUIZO FEDERAL DA 1 VARA DE RIBEIRAO PRETO SP
DATA DA DECISÃO: 23/04/2002
DATA da PUBLICAÇÃO NO DJ :27/05/2002 pg. 305
EMENTA
CONSTITUCIONAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – CRIMES DE ALICIAMENTO DE TRABALHADORES, FRUSTRAÇÃO DE DIREITO ASSEGURADO POR LEI TRABALHISTA, FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO (CTPS) POR OMISSÃO DE REGISTRO E QUADRILHA OU BANDO – CRIMES AFETANDO DIREITOS INDÍGENAS – INTERESSE FEDERAL NA TUTELA DOS ÍNDIOS – CRIME CONTRA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO – CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 109, INCISOS IV, VI E XI – INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 62, 122 E 140 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA SÚMULA 115 DO EXTINTO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS – CRIME SOCIETÁRIO – ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR FALTA DE DESCRIÇÃO DA CONDUTA INDIVIDUAL DE CADA SÓCIO ACUSADO, BEM COMO POR FALTA DE DESCRIÇÃO DAS ELEMENTARES DOS TIPOS PENAIS IMPUTADOS E POR IMPUTAÇÃO ERRÔNEA DE CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, ALÉM DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS – INADEQUAÇÃO DO WRIT QUANTO A ALEGAÇÃO DE QUESTÕES QUE DEMANDAM PRODUÇÃO E EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – ORDEM DENEGADA.
I – Denúncia que imputa aos denunciados a prática dos crimes de aliciamento de trabalhadores (CP, art. 207, caput e § 2º), frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art. 203, caput e § 2º), falsidade de documento público (CTPS) por omissão de registro (CP, art. 297, § 4º) e quadrilha ou bando (CP, art.288), por terem os acusados, em concurso de agentes, promovido o aliciamento de 374 (trezentos e setenta e quatro) indígenas de aldeias localizadas nos municípios de Aquidauna e Miranda, MS, para trabalho em cultivo e corte de cana-de-açúcar para grupo econômico sediado na região de Ribeirão Preto, SP.
II – A competência da Justiça Federal em matéria criminal, de regra, regula-se pelo inciso IV do artigo 109 da Constituição Federal, devendo haver afetação a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, isso ocorrendo, no caso de fato que envolve direitos indígenas, apenas se estes são afetados em sua coletividade, e não em sua expressão individual. Compreensão da Súmula nº 140 do Superior Tribunal de Justiça. Compete à Justiça Federal o processo criminal, em que índios figurem como autor ou vítima, apenas se alguma circunstância especial revela a afetação de bens, serviços ou interesses federais, em especial o interesse da União em atuar na tutela dos silvícolas, como ocorre no caso dos autos, em que os delitos afetam o dever da União, através da FUNAI (fundação pública federal), de autorizar a contratação dos índios e de intervir para proteger os interesses dos indígenas em suas relações sociais fora dos aldeamentos.
III – O crime de aliciamento de trabalhadores é da competência da Justiça Federal (CF, art. 109, VI), definido como tal por sua inserção no Título IV da Parte Especial do Código Penal – que trata Dos Crimes contra a Organização do Trabalho, por outro lado considerando que o objeto de tutela jurídica deste tipo penal é precisamente evitar fatores de desajuste econômico e social nas diversas regiões, o que caracteriza a proteção de um interesse coletivo na organização geral do trabalho em nosso País.
IV – Além disso, no caso dos autos, o aliciamento de um número elevado de trabalhadores (a denúncia menciona 374 indígenas aliciados) de um Estado da Federação, para levá-los ao trabalho em outro Estado, com prejuízo também a um número indeterminado de trabalhadores desta última região, considerando também que os autos relatam ter havido a contratação de indígenas para burlar o piso salarial dos trabalhadores rurais da região de Ribeirão Preto, mediante a conduta de frustrar direitos trabalhistas, não efetivar os devidos registros em CTPS e manter os silvícolas em condições sub-humanas de trabalho, todas estas circunstâncias consideradas em seu conjunto revelam inegavelmente a suposta violação ao sistema de órgãos e institutos destinados à preservação coletiva do trabalho, aplicando-se então o entendimento da Súmula nº 115 do extinto TFR e pacífica jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça.
V – O crime de falsificação de CTPS pela omissão de registros dos indígenas encontrados no local da prestação de serviços, em verdade, equipara-se a uma falsa anotação de contrato de trabalho na CTPS, sob este aspecto não havendo ofensa a interesse federal por não afetar o próprio serviço público da expedição deste documento federal, mas apenas a relação jurídica estabelecida entre os particulares, empregados e empregadores, o que torna aplicável o entendimento dos nossos Tribunais pela competência da Justiça Comum Estadual, conforme Súmula nº 62 do Superior Tribunal de Justiça.
VI – Tratando-se de delitos conexos, da competência de juízos diversos mas da mesma categoria (grau hierárquico), a competência é determinada pelos critérios constantes do artigo 78, inciso II, do Código de Processo Penal, o primeiro deles fazendo preponderar a competência do juízo para a infração à qual for cominada a pena mais grave (alínea a).
VII – Tratando-se de delitos conexos cujo processo e julgamento sejam uns da competência da Justiça Federal e outros da Justiça Comum Estadual, prepondera a competência da Justiça Federal, que atrai a competência para o julgamento das demais infrações. Súmula 122 do Superior Tribunal de Justiça.
VIII – O requisito da "exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias" (CPP, art.
41), é indispensável à materialização do devido processo legal, e seus consectários princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV), decorrendo da denúncia com tal vício da descrição incompleta do próprio fato criminoso uma nulidade absoluta, que irremediavelmente afeta a própria instauração da ação penal, por caracterizar pressuposto para a formação do processo, instrumento constitucional da persecução penal e de materialização da pretensão punitiva.
IX – A denúncia ou queixa com este defeito não pode ser corrigida nos termos do artigo 569 do CPP, que admite a supressão das omissões da denúncia ou queixa a todo o tempo, antes da sentença final, referindo-se aí apenas a aspectos não essenciais do crime, isto é, aspectos fáticos que não envolvam os elementos integrativos do tipo penal, nesta hipótese dispensando a lei processual providências próprias da instauração de uma ação penal. A falta de descrição clara e precisa do fato criminoso deve ser corrigida mediante aditamento da denúncia, procedimento admissível implicitamente no Código de Processo Penal ao permitir que o Ministério Público ofereça aditamento à queixa (art. 45) ou mesmo promova a mutatio libelli (art. 384).
X – Situação jurídica, porém, não ocorrente no caso dos autos, em que a peça acusatória é formulada em atenção aos requisitos constitucionais e legais, expondo os fatos de onde se inferem, em tese, todas as elementares dos tipos penais imputados aos acusados, descrevendo ainda qual foi a participação de cada denunciado e demonstrando os elementos de convicção de sua responsabilidade penal, permitindo o pleno exercício do direito de defesa.
XI – A eventual indicação equivocada na denúncia dos preceitos legais tidos por infringidos, inclusive a imputação de regras de concurso de crimes, não é causa de inépcia da peça acusatória e nulidade do processo, porque o réu defende-se dos fatos descritos na denúncia, e não da classificação jurídica ali constante, não havendo por isso mesmo qualquer prejuízo à defesa.
XII – O trancamento da ação penal só é possível quando resultar estreme de dúvida a improcedência da acusação, não cabendo quando haja prova da materialidade e indícios de autoria do delito de modo a justificar a instauração da ação penal.
XIII – O habeas corpus, em razão de seu procedimento especial, constitui ação inadequada para produção e exame aprofundado de provas acerca da autoria e da adequação típica do fato à norma penal incriminadora, matéria que deve ser reservada para a instrução criminal e o julgamento da ação penal.
XIV – Ordem denegada. Referência
ACÓRDÃO
A Segunda Turma, por unanimidade, denegou a ordem.
Categories Arquivo
Read More1. ACR – APELAÇÃO CRIMINAL – 8644
Processo: 2001.04.01.080440-0 / RS
RELATOR: DES. JUIZ VOLKMER DE CASTILHO
ÓRGÃO JULGADOR: TURMA ESPECIAL
APELANTE: VALDIR JOAQUIM
ADVOGADO: Jerusa Isabel da Rosa Teixeira
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
ADVOGADO: Luis Alberto D\’Azevedo Aurvalle
DATA DA DECISÃO: 24/07/2002
DATA DA PUBLICAÇÃO NO DJ:14/08/2002 página 397.
EMENTA
ESTELIONATO. ARRENDAMENTO DE TERRAS INDÍGENAS. ART. 171, § 2º, I, CP.
As terras indígenas, sendo patrimônio da União, são inalienáveis e indisponíveis, insuscetíveis a exploração de terceiros senão pelos próprios índios, observando as regras estabelecidas pela FUNAI. Arrendamento irregular em favor de terceiro.
Os réus tinham plenas condições de conhecer a ilicitude de suas condutas, já que, sendo lideranças indígenas, deveriam ser conhecedores dos limites entre o lícito e o ilícito em se tratando de arrendamento de terras indígenas. Condenação adequada e pena de reclusão bem substituída. Multa mantida, ressalvado o parcelamento.
Recurso improvido.
ACÓRDÃO
A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
2. AC – APELAÇÃO CIVEL – 358589
Processo: 200004010951209/SC Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA
ORIGEM: 9820055253 – 2 BLUMENAU/SC
RELATOR: DES. TAÍS SCHILLING FERRAZ
ÓRGÃO JULGADOR : TERCEIRA TURMA
APELANTE: VALENTIN KISNER
ADVOGADO: JOSE MONARIN e OUTROS
APELADO: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI
ADVOGADO: JOSÉ DIOGO CYRILLO DA SILVA
DATA DA DECISÃO: 28/05/2002
DATA DA PUBLICAÇÃO NO DJ : 12/06/2002 página: 323
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. DEMARCAÇÃO DE TERRAS PELA FUNAI. LITISCONSÓRCIO DA UNIÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. O art. 19, §2º, da Lei 6001/73 (Estatuto do Índio), veda a utilização de interditos possessórios contra a demarcação das terras indígenas. No caso, as portarias mencionadas pelos autores dispõem sobre o estudo da área, que antecede uma futura demarcação. O rito adequado a ser seguido, em qualquer dos casos, é o da ação petitória ou demarcatória, como ressalva o mencionado dispositivo legal. Processo extinto pela inadequação da via eleita, quanto ao pedido referente à demarcação.
2. A União é litisconsorte necessária da FUNAI nas causas em que se discute a posse (art. 36, parágrafo único, da Lei 6001/73) de terras, quando presente o interesse dos índios.
3. Nulidade da sentença que declara a perda superveniente do objeto sem que haja provas nos autos de que os atos de turbação tenham cessado. Devolução dos autos à origem, para reabertura da instrução e posterior julgamento do pedido remanescente, referente à proteção possessória demandada em face dos atos de turbação dos indígenas.
4. Apelação provida em parte.
ACÓRDÃO
A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso.
3. HC – HABEAS CORPUS – 3104
Processo: 200104010850306/SC
RELATOR : JUIZ VLADIMIR FREITAS
ÓRGÃO JULGADOR: SÉTIMA TURMA
IMPETRANTE: RICARDO CUNHA MARTINS
IMPETRADO: PROCURADOR DA REPUBLICA EM BLUMENAU/SC
DATA DA DECISÃO: 19/02/2002
DATA DA PUBLICAÇÃO NO DJ :20/03/2002 página 1411
EMENTA
PENAL. CRIME DE DISCRIMINAÇÃO RACIAL. INDÍGENAS. LEI 7.716/89 ART. 20 COM A REDAÇÃO DAS LEIS 8.801/90 E 9.459/97.
A opinião externada em livro, cartas e artigos sobre indígenas e conflitos entre estes e colonos por disputa de terras, não configura o crime de praticar, induzir ou incitar a discriminação racial, mas sim a exteriorização de opinião, ainda que extremada, sobre o assunto, opinião esta amparada pela liberdade de manifestação assegurada no art. 5º, inc. IV, da Constituição Federal. Por tal motivo, tranca-se inquérito policial instaurado para apurar a existência de tal delito, sem prejuízo do prosseguimento das investigações sobre outros fatos que possam configurar delito de ação penal pública.
ACÓRDÃO
Apresentado em mesa. A Turma, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos do voto do relator.
4. RSE – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – 2001
Processo: 200004010466897 / PR
RELATOR : JUIZ AMIR SARTI
ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA TURMA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
ADVOGADO: LUIS ALBERTO D\’AZEVEDO AURVALLE
RECORRIDO: VALDIR RENTAN DOMINGOS
DATA DA DECISÃO: 26/09/2000
DATA DA PUBLICAÇÃO NO DJ :13/12/2000
EMENTA
CRIMES PRATICADOS CONTRA SILVÍCOLAS – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL.
Em circunstâncias especiais, quando evidenciada ofensa a direitos indígenas que, por força da Constituição, devem ser protegidos pela União, não há como deixar de reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar crimes praticados contra silvícolas.
ACÓRDÃO
A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso.
5. AG – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 40569
Processo: 199904010092191 / RS
RELATORA : JUIZA SILVIA GORAIEB
ÓRGÃO JULGADOR: QUARTA TURMA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
ADVOGADO: LUIS ALBERTO D\’AZEVEDO AURVALLE
AGRAVADO: JOSE AUGUSTO WANDAM MARTINS
DATA DA DECISÃO: 24/10/2000
DATA DA PUBLICAÇÃO NO DJ : 31/01/2001 PÁGINA: 607
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. CRIANÇAS INDÍGENAS. FALECIMENTO DA MÃE. ATROPELAMENTO. AUSÊNCIA DE MEIOS DE SOBREVIVÊNCIA. INDISPENSABILIDADE DA PROVIDÊNCIA.
– O estarrecedor quadro demonstrado, fruto das verificações efetuadas diretamente pelos integrantes do Ministério Público Federal, não deixa margem de dúvida quanto à indispensabilidade de providência que possa evitar que o outro menor órfão venha a ter o
mesmo fim de seu irmão, que veio a falecer por desnutrição severa, pois o mínimo que a Constituição Federal assegura é o direito à vida.
– Esta, para ser mantida, em se tratando de uma criança indígena, abandonada à própria sorte, que perdeu sua mãe atropelada por veículo pertencente a um dos agravados, deve ter garantidos os meios de subsistência, ou seja, o alimento.
– Se o irmão sobrevivente já morreu de inanição, o que é inadmissível para a consciência de quem se diz cristão e adepto do \” Direito \”, não se poderia questionar na estreita via do agravo outro elemento que não a sobrevivência, abstraídos aspectos processuais que jamais vieram a salvar a vida de alguém.
– Opção consciente que reside na necessidade de fazer o Poder Judiciário cumprir perante a sociedade o compromisso assumido constitucionalmente.
– Diante da morte de um inocente e da eminência daquela que se apressa na direção do sobrevivente que está sendo protegido pelo Ministério Público, antecipação de tutela deferida, confirmado o efeito suspensivo ativo, para garantir indenização mensal provisória no valor de um salário mínimo, e demais consectários postulados, a ser prestada pelo proprietário e pelo condutor do veículo causador do acidente, para cumprimento imediato.
– Prequestionamento quanto à legislação invocada estabelecido pelas razões de decidir.
– Agravo provido.
ACÓRDÃO
A turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2002.04.01.048848-8/SC
RELATOR : DES. FEDERAL VALDEMAR CAPELETTI
AGRAVANTES : FUNDACÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI e outro
ADVOGADO : José Diogo Cyrillo da Silva
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO
ADVOGADO : Luis Alberto D\’Azevedo Aurvalle
RELATÓRIO
Inconformada com decisão que, em ação civil pública, deferiu a liminar, a ré FUNAI agravou de instrumento.
O recurso foi recebido no efeito também suspensivo e respondido.
É o relatório.
VALDEMAR CAPELETTI
Relator
VOTO
A decisão agravada deve ser reformada.
Ao proferir o despacho de fl. 80, assim me pronunciei:
“Recebo o agravo com atribuição de eficácia suspensiva. A decisão recorrida de fls. 26/33 defere liminar, em ação civil pública, para determinar que as rés União e FUNAI, solidariamente, (a) em noventa dias, levantem a questão indígena na Circunscrição Judiciária de Joinville; (b) no mesmo prazo, relatem ao juízo as possíveis hipóteses de solução; (c) após o relatório, em seis meses, continuem os procedimentos de demarcação; (d) bimestralmente, apresentem relatórios dos trabalhos de demarcação; e (e) em noventa dias, proponham solução temporária para a questão.
A meu ver, os trabalhos de levantamento, demarcação e solução temporária do problema demandam recursos humanos e materiais, especialmente de ordem econômico-financeira, cuja mobilização exige prazo incompatível com a determinação judicial.
De resto, descabe ao Poder Judiciário substituir o Poder Executivo no delineamento e na implantação de providências administrativas da atribuição deste”.
Não vislumbro, agora, motivo para modificar esse entendimento.
Em face do exposto, dou provimento ao agravo.
É o voto.
VALDEMAR CAPELETTI
Relator
EMENTA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDENTIFICAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE ÁREAS A SEREM OCUPADAS POR ÍNDIOS GUARANIS NO NORTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LIMINAR CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Os trabalhos de levantamento, demarcação e solução temporária do problema demandam recursos humanos e materiais cuja mobilização exige prazo incompatível com a determinação judicial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos entre as partes acima indicadas, decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por maioria, dar provimento ao agravo, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 20 de fevereiro de 2003.
VALDEMAR CAPELETTI
Relator
Categories Arquivo
Read MoreBrasil

CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
http://www.cnbb.org.br

Conic – Conselho Nacional de Igrejas Cristãs
http://www.conic.org.br
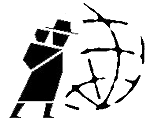
Missiologia – Instituto de Estudos Teológicos
http://www.missiologia.org.br

CIR – Conselho Indígena de Roraima
www.cir.org.br
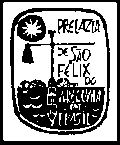
Prelazia de São Félix do Araguaia – MT
http://www.alternex.com.br/~prelazia
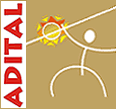
Agência de Informação Frei Tito para a América Latina
http://www.adital.org.br
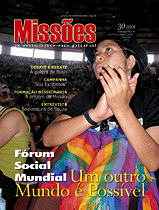
Revista Missões
www.revistamissoes.org.br

Missionários do P.I.M.E.
http://www.pimenet.org.br

MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
http://www.mst.org.br
Inglaterra

Amnesty International
http://www.amnesty.org
México
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas http://www.laneta.apc.org/cdhbcasas/
Exército Zapatista de Libertação Nacional
http://www.ezln.org
Categories Arquivo
Read MoreNós, o Povo Xukuru do Ororubá, reunidos durante os dias 17 a 20 de maio de 2004 em nossa IV Assembléia Geral, na Aldeia São José, contamos com mais de 500 participantes, representando as 25 aldeias, para discutirmos o tema “Pensando o Desenvolvimento do Nosso Povo a partir do cuidado com a Mãe Natureza”.
Entendemos que este é o momento de fundamental importância para pensar um desenvolvimento sustentável, levando em consideração o Projeto de Futuro do nosso Povo, uma vez que a nossa luta a cada ano se consolida e nos garante o avanço na recuperação do nosso território.
Nesses 500 anos de colonização e invasão das terras indígenas, o nosso Território foi violado, degradado e empobrecido estabelecendo um modelo de produção que beneficiava os invasores e nos condicionava a uma vida escrava, dependente e até miserável.
Nossa Assembléia foi marcada por uma grande preocupação com o momento político nacional em que após quase um ano e meio de Governo Lula, não se formulou até o momento qualquer proposta de política indigenista, mas, ao contrário, o que percebemos é o avanço das forças antiindígenas.
Preocupa-nos nesse momento a timidez e omissão com que esse Governo tem tratado a questão indígena, especialmente porque em sua base de sustentação no Congresso Nacional estão os nossos grandes inimigos que desejam impedir o reconhecimento dos povos indígenas, bem como a efetivação de nossos direitos territoriais, a exemplo do caso da Terra Indígena Raposa Serra do So,l em Roraima, e inclusive com a tentativa de eliminar do texto da Constituição Federal os nossos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupamos.
Dentro desse contexto, a nossa Assembléia foi fruto de uma profunda discussão ao longo do ano entre as várias organizações do Povo Xukuru, envolvendo crianças, jovens e adultos, professores, agentes de saúde e lideranças acerca de uma proposta de desenvolvimento que respeite a Natureza Sagrada, a nossa visão de mundo, as nossas formas próprias de produzir, inclusive o nosso jeito de ser.
Dessa forma, com a reconquista do nosso território, a custa de muita luta, perseguições e mortes de nossas lideranças, REAFIRMAMOS o nosso desejo de romper com o modelo de produção e exploração das terras que nos foi deixado. A nossa IV Assembléia Geral teve como principal objetivo refletir e planejar o futuro do nosso Povo, contribuindo na melhoria da nossa qualidade de vida, inclusive, da população regional.
Nesse sentido, aprovamos os seguintes encaminhamentos a serem implementados até a próxima Assembléia Geral:
1. Encontros por regiões (Serra, Ribeira e Agreste) para discussão e planejamento das ações que objetivam o trabalho com a recuperação do solo, o uso correto da água, a convivência com a seca, formas de organização do trabalho, armazenamento e comercialização da produção;
2. Encontros dos Artistas Xukuru, inclusive as Rendeiras, para discutir formas de organização do trabalho, produção e comercialização da arte indígena;
3. Encontro de lideranças com entidades parceiras para contribuir no planejamento das ações produtivas.
Nesta Assembléia contamos com a presença dos povos indígenas Myky, do Mato Grosso; Krahô-Kanela, Apinajé, Xerente e Karajá, de Tocantins; Anacé, do Ceará; Tuxá e Tumbalalá, da Bahia e Truká, Kapinawá, Pipipã, Kambiwá e Pankará, de Pernambuco, solidários à luta do nosso Povo, bem como a presença das entidades parceiras, como o Centro de Cultura Luiz Freire, o Serviço de Tecnologias Alternativas/SERTA, o CIMI (Conselho Indigenista Missionário), o Centro Diocesano de Apoio ao Pequeno Produtor/CEDAPP, a Telephone Colorido Cooperativa Audiovisual e os pesquisadores da UFPE, UPE, UFPB e UFRN.
Frente aos grandes desafios do momento político em que estamos vivendo, reafirmamos a necessidade de estar vigilantes e somar forças para construir um país onde haja o reconhecimento e respeito à diversidade de povos que compõem a nação, como desejava o Cacique Xicão Xukuru.
Aldeia São José/Terra Indígena Xukuru, 19 de maio de 2004.
Serra do Ororubá/Terra Tradicional do povo Xukuru do Ororubá, 19/05/2004
Nós, povos indígenas Xukuru do Ororubá, Pipipã, Kapinawá, Tumbalalá, Krahô-Kanela, Xerente, Karajá, Miki, Truká, Tuxá, Apinajé, Karajá, Kapinawá, Kambiwá e Pankará, reunidos na IV Assembléia Geral do Povo Xukuru do Ororubá que se realizou no período de 17 a 20/05/2004, queremos nesta carta declarar o nosso apoio a luta incansável dos povos Tumbalalá/BA, Krahô-Kanela/TO, Anacé/CE, Myky/MT e Pankará/PE.
Para nós indígenas, a palavra é de grande valor. É através das histórias contadas pelos mais velhos que mantemos viva a nossa identidade e firme a memória da nossa história, o uso e o cuidado com a nossa terra sagrada.
Mas, descobrimos nesses 500 anos de colonização que para os não-índios a palavra não vale nada e muitas vezes foi usada com má-fé para roubar as nossas terras como nos contou os parentes Anacé nesta Assembléia.
Por isso, nos apropriamos da escrita que nos foi imposta e hoje com essa escrita registramos aqui a nossa indignação com a omissão do Estado Brasileiro na garantia dos direitos que conquistamos na Constituição Federal de 1988.
Assim, apoiados na sabedoria dos mais velhos aqui presentes, na coragem das nossas lideranças, na esperança dos povos e sob a proteção das Forças do Ororubá e no Deus que acreditamos, solicitamos que o Ministério Público Federal se solidarize com a nossa luta por um país justo e faça o governo brasileiro cumprir com as suas obrigações em relação aos povos indígenas deste país.
Que tome providências em relação a:
A constituição do GT da FUNAI para iniciar o processo de regularização de nossas terras que estão ameaçadas pela construção de uma siderúrgica e uma refinaria do Governo Estadual e Federal, e a urgente suspensão da construção destas obras.
Urgência na conclusão dos trabalhos do GT da FUNAI de regularização e delimitação das terras e o reconhecimento de nossas escolas como escolas indígenas.
Revisão do limite do seu território, incluindo a área do Castanhal e do Tucunzal, que desde a década de 1990 estão em processo reivindicatório.
Garantir o retorno as suas terras na Mata Alagada, pois 85 pessoas deste povo estão vivendo em uma casa em condições precárias no Município de Gurupi/Tocantins. Essa reivindicação já foi encaminhada junto ao Ministério Público e a FUNAI, porém passou o prazo de 15 de maio deste ano e até agora nenhuma providência foi tomada.
Reconhecimento oficial do seu território.
Categories Arquivo
Read MoreNo lançamento da Campanha Educativa sobre Direitos Humanos e Direitos Indígenas
A Causa Indígena é uma causa perdida e simultaneamente uma causa subversiva. Dentro do maléfico sistema neoliberal que domina o mundo, todos/todas quantos assumimos a Causa Indígena navegamos fora de onda, somos economicamente hereges, quixotes enlouquecidos.
A consciência e a política públicas dos países latino-americanos e caribenhos, ao longo dos 500 anos de sua existência como tais, têm sido sempre de desconhecimento dos Povos Indígenas em sua especificidade (e, por isso mesmo, em seus direitos), e de integração absorvente no respectivo país. Foi até: “índio bom é índio morto”. Vem sendo, com a maior naturalidade: “índio bom é índio integrado”, quer dizer, desintegrado.
A origem e as justificativas dessa mentalidade e dessa política são bem conhecidas. Os Povos Indígenas são povos “primitivos”, sua cultura é uma sub-cultura, são empecilho para o progresso. Além do mais, as terras e o sub-solo dos Povos Indígenas vêm sendo sempre objeto da mais descarada cobiça.
Sua identidade, sua “outreidade” (valha a palavra), sua alternatividade, são sumariamente desconhecidas ou simplesmente não reconhecidas como positivas e complementares.
Por isso, na vontade sincera de reverter esta longa, perversa história de desespero, de negação, de violação, o primeiro passo deve ser a educação, a re-educação, das mentes e corações da população não-indígena; a partir sobretudo da infância e da juventude; por todos os meios que esse ingente desafio re-educador tiver ao seu alcance.
Daí, a oportunidade desta Campanha Educativa sobre os Direitos (humanos sempre e sempre diferentes também) dos Povos Indígenas.
Com esta Campanha, o Instituto Interamericano de Direitos Humanos (IIDH) e o Centro de Proteção Internacional dos Direitos Humanos não fazem mais nem menos do que ajuda à Nossa América a pagar a maior, mais inveterada dívida que a Nossa América tem; a mais radical dívida, interna mesmo, da entranha do nosso ser e de nossa história. Todas as outras dívidas devem-se subordinar ao pagamento dessa dívida-mãe.
Vamos assumir a Campanha com rebelde indignação, com apaixonado comprometimento, com teimosa esperança.
A Causa Indígena, disse, é uma causa perdida (aliás, como o Evangelho!) e é simultaneamente uma causa subversiva, libertadora. Com os Zapatistas Maias, todos os Povos Indígenas da Ameríndia, do Mundo, nos recordam, com pleno direito: “Nada sem nós”. “Povos-testemunhas”, segundo Darcy Ribeiro, esses povos são também povos-profecia, memória do nosso futuro… Sem eles, não seremos nós.
Brasília, 04 de maio de 2004.
Pedro Casaldáliga
Categories Arquivo
Read More|
|
|
Nós, povos indígenas da Bahia, das etnias Pataxó, Tupinambá de Olivença, Pataxó Hã-Hã-Hãe, Tuxá, Tumbalalá, Kaimbé e Pankararé, aqui representando os demais povos deste Estado. Estamos reunidos nesta capital para realizarmos vários atos públicos, manifestações em repúdio ao descaso das autoridades dos Governos Federais, Estaduais e Municipais. Queremos com isto garantir aos nossos povos justiça e defesa dos nossos direitos constitucionais. A TerraA terra é a nossa vida. Fonte e garantia de sobrevivência física e cultural destas e das futuras gerações. Por isso é urgente e necessário o cumprimento da Constituição Federal, que nos garante a demarcação de todas as nossas terras no prazo de cinco anos, após a promulgação da Constituição, ou seja, até o ano de 1993 o governo deveria ter regularizado as nossas terras. Estamos no ano de 2004, o governo está atrasado, em mais de 11 anos, no cumprimento dos seus deveres para com os povos indígenas. Esta situação de desrespeito do Governo Federal tem incentivado os governos estaduais, também a não cumprir com seus deveres para com os povos indígenas. Aqui na Bahia, a situação está se tornando insustentável. Nós queremos nesta manifestação pacifica, afirmar que a nossa resistência e a nossa força é que nos mantém firme na luta neste Estado que não nos reconhece e não nos respeita. Nós sabemos que os nossos direitos estão ameaçados por muitos interesses de grupos econômicos e políticos, que tem ganância em se apropriar de nossas terras e de nossas riquezas que soubemos resguardar durante séculos, apesar de todas as pressões que sempre fizeram contra as nossas comunidades. Inclusive conhecemos vários deputados de nosso Estado, que lutam para prejudicar a regularização de nossas terras, o atendimento diferenciado na saúde e na educação, e os outros direitos que temos. Eles chegam a incentivar a invasão de nossos territórios, a apropriação de nossas riquezas e a destruição de nossas culturas. Esses políticos estão se organizando de Norte a Sul do País, ameaçando e violentando as nossas comunidades. Esses grupos além da violência e da mentira usam da chantagem e das barganhas de bens pessoais para causar divisões internas nas comunidades. Tais setores nunca aceitaram nossas conquistas no Congresso Nacional – Constituinte (1966-1988)- e nunca aceitaram o Capítulo dos Índios (artigos 231 e 232) da Constituição Federal, de 1988, que reconhece os direitos indígenas no Brasil. Articulam um movimento no Congresso Nacional com o objetivo de mudar estes artigos da Constituição que amparam os nossos direitos. Se isto vier a acontecer veremos, no governo Lula, a abertura definitiva de uma porta para o extermínio físico e cultural de todos os povos indígenas do Brasil, e com certeza nós os índios da Bahia seremos os primeiros desta lista. Nos manifestamos preocupados com estas possibilidades e com este ataque dos nossos velhos inimigos e também daqueles que considerávamos nossos aliados, participamos ativamente da eleição deste novo Governo Federal, cheios de esperanças e sonhos, que aos poucos também vão sendo roubados, até os nossos sonhos estão roubando. O índice de violência nestes dois anos tem sido assustador, a criminalização de nossas lideranças tem aumentado, o descaso com a questão da saúde em nosso estado é lamentável, levando a morte muitos de nossos parentes, em especial os nossos troncos velhos, as ações da Justiça Federal, a exemplo da de Ilhéus, empossando fazendeiros em nossas terras causando o acirramento dos conflitos e o fortalecimento dos invasores de nossos territórios. Unindo as nossas forças, solidários com outros companheiros e companheiras, também perseguidos e sofredores, manifestamos a toda sociedade nacional as nossas bandeiras de luta: A Violência:
Demarcação/Regularização:
Saúde:
Educação:
Além destas bandeiras de luta queremos por fim destacar que repudiamos e não aceitaremos nenhuma ação voltada para as nossas aldeias que não estejam em consonâncias com as nossas lideranças e as comunidades, estas ações tem que ter o consentimento e a consulta prévia as comunidades. Não aceitamos imposições, como as que vêm sendo feitas pelo atual administrador da Funai em Paulo Afonso, Srº João Valadares. Solicitamos apoio as atividades produtivas que venham possibilitar um desenvolvimento sustentável e que respeitem o nosso meio ambiente, como também a inclusão das comunidades indígenas nas diversas políticas públicas e governamentais. (projetos de auto-sustentação). Em solidariedade aos nossos parentes em todo o Brasil pedimos que providências enérgicas e urgentes sejam tomadas no sentido de garantir os direitos e a integridade física do povo Cinta Larga (retirada dos garimpeiros e outros invasores de suas terras) e a imediata homologação da TI Raposa Serra do Sol do povo Makuxi, e um combate as mentiras e os ataques violentos que vêm, sofrendo todos os povos indígenas no Brasil, pelos ruralistas, garimpeiros, mineradoras, fazendeiros, madeireiros, governos antiindígenas, enfim, os verdadeiros inimigos dos povos indígenas. Diante dos fatos expostos , nós povos indígenas do Estado da Bahia, exigimos que o governo federal e o governo estadual, dentro de suas competências, cumpram os compromissos assumidos com os povos indígenas. E ao Ministério Público e aos nossos aliados, que nos ajude nas denúncias e na concretização e garantia de nossos direitos constitucionais e históricos.
Salvador, 28 de abril de 2004. Povos: |
Categories Arquivo
Read MoreIndios lagern auf dem Platz vor den Ministerien und drängen auf Homologation von Raposa/Serra do Sol
Mit der Bundesregierung unzufriedene indigene Vertreter aus ganz Brasilien errichteten heute, 15.04.2004, vor dem Justizpalast auf dem Platz vor den Ministerien das Lager “Freies Land“. Absicht dieses Lagers, das bis zum 19. April, dem Tag des Indios, bestehen bleiben soll, ist, Präsident Lula endlich zur Unterzeichnung des Dekrets der Homologation des indigenen Gebietes Raposa/Serra do Sol zu bewegen.
Vertreter von Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Paraíba, Amazonas und Roraima haben das Lager eröffnet. Morgen werden Indios aus dem Zentralwesten und aus Bahia erwartet. Die Delegation aus Roraima setzt sich aus 20 Indios der Ethnien Macuxi, Wapichana, Ingarikó, Wai Wai und Yanomami zusammen.
Aufgrund des ständigen Drucks seitens der grossen Landbesitzer auf die indigenen Rechte sowie die Unentschlossenheit der Regierung, sind sich die indigenen Völker Brasiliens einig, dass die Entscheidung über Raposa/Serra do Sol ein Meilenstein einer indigenen Politik wäre, die man sich von Lula erwartet.
Die Indios wollen Audienzen mit dem FUNAI-Präsidenten, mit dem Justizminister, mit Präsident Lula und Minister Luiz Dulci. Geplant sind auch Treffen mit den Fraktionsführern im Kongress.
Innerhalb der nächsten zwei Wochen ist keine Entscheidung über die Homologation von Raposa/Serra do Sol zu erwarten, nachdem Präsident Lula einen vierten Bericht als Entscheidungsgrundlage verlangt hat.
Bei einer Versammlung mit neun Ministern am 12.04.2004 erbat Lula einen Bericht mit begleitenden Massnahmen zur Homologation. Das Generalsekretariat der Präsidentschaft wird nun einen Bericht mit Aktivitäten der globalen Entwicklung für dieses Gebiet erstellen sowie den Beitrag des Bundes für die Entwicklung aufzeigen, etwa hinsichtlich Ökologie, Infrastruktur, Übertragung von Land, Planung des regionalen Wirtschaftswachstums.
Laut Cezar Alvarez, General-Subsekräter der Präsidentschaft, beabsichtige der Präsident eine möglichst schnell Entscheidung. Allerdings könnte der Bericht nicht ausreichend sein, was die Erstellung eines weiteren Dokuments zur Folge hätte.
Berichte: Nunmehr steht der Regierung der vierte Bericht zur Verfügung. Politische und wirtschaftliche Interessen hemmten die Arbeiten im Zusammenhang mit der Homologation. Politiker, die gegen die indigenen Rechte sind, nutzen ihren Einfluss und argumentieren mit mangelnder wirtschaftlicher Entwicklung im Bundesstaat Roraima, um die von den Indios seit fünf Jahren erwartete Homologation zu verhindern.
In den Berichten von Kammer und Senat kommt zum Ausdruck, dass die Gruppe der Landbesitzer und indigene Gegner eine Änderung der Gesetzgebung anstreben, die den Indios ihre Rechte garantiert. Die Audienzen im Nationalkongress dienen nur dem Lobbying für Vorschläge zur Änderung jener Verfassungsartikel, die sich auf die Demarkierung und den Schutz indigener Gebiete beziehen.
Laut Alvarez erstelle die Legislative autonom Berichte und die Exekutive greife nicht ein. Er betonte aber, dass bei der Versammlung am Montag “die von den Berichterstattern beabsichtigte Verzögerung der Abstimmung Unterstützung fand“.
Brasília, 15. April 2004.
CIMI – Indianermissionsrat
Categories Arquivo
Read MoreINDIGENOUS PEOPLE OF THE RIO BANCO LAND IN RONDÔNIA ASK FOR HELP AGAINST POWER PLANTS BUILT BY THE CASSOL GROUP
Eight indigenous peoples of the Rio Branco land in the region of Alta Floresta D´Oeste, state of Rondônia, are facing big problems created by the so-called Small Hydroelectric Power Plants (PCH) built along the Branco river. The power plants have reduced the water level in the rivers, making it difficult for them to move about in them on their boats during the summer and causing the fish and the forests along the rivers to disappear.
The first plant of the seven which make up the hydroelectric system of the Branco river was built in 1993 by the Cassol group, which belongs to the family of the state governor, Ivo Cassol (PSDB – Party of the Brazilian Social Democracy). The Santa Luzia power plant affected the Vermelho river, a tributary of the Branco river. The Cassol group built five small power plants.
The most recent project of the Cassol group is being implemented in the Figueira river, the main tributary of the Branco river, which is about to have its regular course changed to feed a power plant. According to indigenous leaders, in the earth moving, filling in, and leveling operations carried out to build this power plant "the cemetery of our people was destroyed, bones were removed, and pots were broken by the tractors."
In April of this year, indigenous leaders sent a document to the Attorney General in Porto Velho asking him to take measures to prevent the power plants from being built. The leaders asked the attorney general to "get in touch with Funai for the purpose of setting up a Technical Group to restudy the bounds of the traditional indigenous territory" which should cover an originally demarcated 236,137-hectare area.
In the document, they say that the lands where these small power plants are being built are located inside the traditional territory of the peoples living in them. "We are asking them to return lands to us of which we are the true owners, which comprise the headwaters of the Figueira river, Paulo Saldanha, and the Branco river, where many indigenous cemeteries are located."
During the Amazon summer, which lasts from June to November, indigenous people living in 16 villages located on the banks of the river have a hard time to go anywhere, since the Branco river is their main transportation channel. In the past, it took them one hour to go from their villages to the city, but now it takes them five hours, creating huge problems for them, especially health care problems. "In some parts of the river, we have to drag our boats with our own hands," they say.
In addition to indigenous people, small farmers and riverine populations are being affected by the power plants. In March of last year, small farmers, riverine populations and indigenous leaders reported to the ministries of Environment, Mines and Energy, and Justice that they were under constant pressure from the building companies to sell their lands, particularly from the group owned by the family of the state governor. "Many have given in, but others continue to resist under strong pressure, particularly from the Cassol Group," they say.
SENATE COMMITTEE PROPOSES MEASURES WHICH JEOPARDIZE DEMARCATION OF INDIGENOUS LANDS
A surprising partial report issued with the clear purpose of defeating the struggle of indigenous people for their lands and jeopardizing indigenous rights provided for in the Constitution was approved yesterday (the 8th) by the Senate’s Land Affairs Committee.
The report presented by senator Delcídio Amaral (Workers’ Party) recommends, as a priority, a Constitutional Amendment Bill for the Senate to be heard in any procedure involving the demarcation of indigenous lands and for the Institutional Safety Office to be heard also when the lands in question are located in border areas.
Another recommendation of the report is the passage of a Constitutional Amendment Bill according to which the holders of title deeds to lands located in areas to be demarcated as indigenous areas are to be fully indemnified for having to leave them, and not only for improvements made therein, and the report also supports a bill proposing the establishment of indigenous debt bonds for the amounts involved in the indemnifications.
The Committee also proposed that if indigenous people return to their place of origin through reoccupation actions before demarcation procedures are concluded, the lands in question should not be declared indigenous lands. This means that lands reoccupied by force by indigenous people would never have their bounds as indigenous areas officially recognized.
All these proposals have enhanced the difficulties faced in demarcation procedures through the inclusion of new parties in decision-making processes, little political representation, and the banning of the only means indigenous people had to pressure the authorities, as a result of which it will become almost impossible for them to have the bounds of their lands officially confirmed.
Brasília, 9 June 2004.
Cimi – Indianist Missionary Council
Categories Arquivo
Read MoreJUIZ FEDERAL EXPEDE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONTRA O POVO KRAHÔ-KANELA
O juiz federal substituto, Wesley Wandim Passos Ferreira de Souza, de Tocantins, concedeu, ontem (16), uma nova liminar de reintegração de posse contra o povo Krahô-Kanela. Na segunda-feira (14), o juiz Agenor Alexandre da Silva, de Cristalândia (TO), tinha revogado uma liminar concedida por ele, transferindo a competência à Justiça Federal. Os Krahô-Kanela retomaram, quinta-feira (10), seu território tradicional – Mata Alagada- no município de Lagoa da Confusão, cerca de 300 quilômetros de Palmas, Tocantins.
Com a notícia da primeira liminar, concedida sexta-feira (11), os índios fizeram reféns dois oficiais de justiça que, no sábado (12), foram até a área levar a liminar. Após negociações, na terça-feira (15) os dois foram liberados com a prerrogativa de o administrador da Funai de Gurupi, Euclides Lopes Dias, ficar sob custódia dos índios. Depois da notícia da revogação da liminar, Dias também foi solto. As negociações foram acompanhadas, pelo superintendente da Polícia Federal em Palmas, representante do Ministério Público e de entidades de apoio aos povos indígenas e de direitos humanos.
A nova liminar pode ser cumprida a qualquer momento por dois oficiais de justiça que serão acompanhados pelas polícias Federal e Militar. Os Krahô-Kanela permanecem na área irredutíveis quanto à saída e garantem que nada os farão desistir. Segundo Aldereise Krahô-Kanela, a decisão é resistir, “vamos continuar lá, ninguém vai sair. Minha mãe tem 76 anos e disse para nós que prefere morrer em sua terra a ter que sair”.
O governo só deu início ao processo de regularização do território Krahô-Kanela no ano passado, quando constituiu o Grupo Técnico para elaborar o relatório de identificação e delimitação, até então, o povo vivia de um lado para o outro desde da década de 70 quando foram expulsos da terra.
Cansados das andanças, em 2001, os Krahô-Kanela retomaram a terra Mata Alagada. Após quatro dias tiveram que deixá-la por conta de um liminar de reintegração de posse. Depois de um acordo entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e a Funai, o povo, com cerca de 300 pessoas, passou a ficar confinado na sede de um assentamento, com meio hectare, a cerca de 2 quilômetros da terra tradicional. No final do ano passado tiveram que sair do assentamento, sendo transferidos para uma casa, em Gurupi, onde funcionava a Casa do Índio, onde permaneceram até a retomada do último dia 10.
Segundo Aldereise, o povo estava disposto a esperar o término do relatório de identificação, mas o descaso e até a fome os motivaram a tomar a decisão de retomar a área. “O sofrimento era grande, chegamos a passar fome e a Funai não nos atendia em Gurupi”. Quando foram para cidade, mais uma vez, o órgão indigenista prometeu total assistência ao povo. Mesmo temerosos em trocar a roça pela cidade os Krahô-Kanela acreditaram nas promessas. “Estávamos com medo, mas confiamos que o prometido seria feito, o que não aconteceu”.
POVO ARARA, DE CACHOEIRA SECA, ENTREGA ABAIXO-ASSINADO NO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Pela primeira vez um grupo do povo Ugorogmo, conhecido como Arara, da terra indígena Cachoeira Seca, cerca de 1300 quilômetros de Belém, no Pará, está em Brasília. A delegação veio a capital entregar ao ministro da Justiça um abaixo-assinado em prol da demarcação da terra.
Incumbidos pelos mais velhos a vir a Brasília, seis jovens Arara entregaram, ontem (16), ao assessor do ministro da Justiça, Cláudio Luiz Beirão, um abaixo-assinado com 23 mil assinaturas coletadas durante a campanha pela demarcação da terra indígena Cachoeira Seca, iniciada em dezembro do ano passado.
Preocupados com a demora para demarcar e com o aumento do número de invasores em suas terras, os Arara também estiveram reunidos com Artur Mendes, do Departamento de Assuntos Fundiários da Funai, com Rolf Hackbart, presidente do Incra, (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), com parlamentares e com procuradores da 6ª Câmara do Ministério Público Federal.
Um levantamento feito no ano de 1992 apontava para cerca de 400 famílias dentro da área. Hoje, 12 anos depois, a terra, com 760 mil hectares, tem mais de mil invasores, segundo Afonso Alves da Cruz, sertanista que trabalha com os Arara desde o primeiro contato com o grupo em 78. Os invasores abrem estradas dentro da terra, como a madeireira Bannach que, atraída pelo Mogno, abriu uma estrada, a Transiriri, que corta a terra indígena. Outros, abrem picadas e colocam cartazes confirmando a ocupação.
Os índios denunciaram que com a demora para demarcar a terra eles são constantemente ameaçados e perseguidos pelos invasores. Em 2000, um Arara foi assassinado depois de tentar impedir a pesca predatória dentro da terra. De lá pra cá, eles não saem mais sozinhos para caçar ou pescar. “Todo mundo sai junto porque a gente tem medo de andar só. Se a gente encontrar o branco no mato e ele matar um, cadê o outro para salvar?”, disse Iaut Arara.
Os Arara acreditam que a demarcação da terra trará paz para criar suas famílias. Eles temem que a caça, ainda farta, possa ficar escassa se as invasões continuarem. “A mata vai acabar e os bichos vão embora. Queremos a demarcação para viver em paz”.
Segundo Iaut a comunidade está crescendo, hoje eles são 72, muitas crianças estão nascendo e eles estão preocupados com o futuro do povo. “Onde eles vão plantar roça? Onde eles vão caçar? Por isso a gente quer a nossa terra”. E acredita que “com a demarcação eles (os invasores) vão ter que respeitar nossa terra, por que ali não é deles”.
Brasília, 17 de junho de 2004.
Cimi – Conselho Indigenista Missionário
Categories Arquivo
Read More